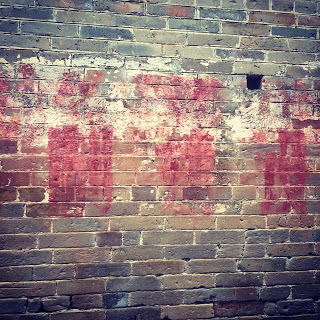Tarde de feriado em La Laguna. Temperaturas altas, vazio de gente e uma certa solidão que proporcionou alguns regressos. Há uma Espanha onde me sinto em casa, a do calor que sempre traz a imagem de sol e sombra e de como estas duas realidades se fixam noutra que é a do coração que os recebe e transforma. Tardes de Espanha, com as inquietações de Cervantes, a música de Ibanez e a poética de Alberti. São sempre assim as melhores, aquelas onde consigo dar um passo mais para o que desconheço a partir do caminho calcorreado repetidamente do que me é conhecido.
Tarde de feriado em La Laguna. Temperaturas altas, vazio de gente e uma certa solidão que proporcionou alguns regressos. Há uma Espanha onde me sinto em casa, a do calor que sempre traz a imagem de sol e sombra e de como estas duas realidades se fixam noutra que é a do coração que os recebe e transforma. Tardes de Espanha, com as inquietações de Cervantes, a música de Ibanez e a poética de Alberti. São sempre assim as melhores, aquelas onde consigo dar um passo mais para o que desconheço a partir do caminho calcorreado repetidamente do que me é conhecido.
No meio do mar, La Laguna. No centro do pensamento a ideia de uma velha cidade em terra, na perfeita junção de distância e de desafio. Sinto-me esta cidade.